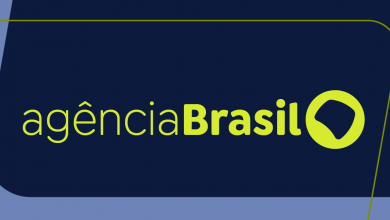Foi nesse cenário, entre carnavais e arranjos musicais, que o samba carioca surgiu, com personagens como Donga, Cartola e Pixinguinha, acompanhando o ritmo da cidade até se estabelecer definitivamente nas escolas de samba que desfilam pelas avenidas atualmente. A exposição “Pequenas Áfricas: o Rio que o Samba Inventou”, no Instituto Moreira Salles, utiliza fotografias, objetos e vestimentas para contar a trajetória do samba, retratando conflitos e conquistas ao longo do tempo.
Antes de testemunhar essa rica narrativa, o público é convidado a passar por um jardim suspenso de ervas sagradas, criado pela mãe de santo Celina de Xangô, e por uma reprodução do Cais do Valongo. Esses elementos simbólicos têm como objetivo purificar o ambiente, que não focará na dor da comunidade negra, mas sim no resultado de sua criatividade, que se tornou um patrimônio nacional.
Foi o sambista e artista Heitor dos Prazeres que chamou a região de Pequena África no começo do século. No entanto, o caldo cultural que se formava ali precisou se espalhar por outros pontos da cidade quando o governo anunciou a construção da linha férrea e da Avenida Presidente Vargas, na década de 1940.
Angélica Ferrarez, uma das curadoras da exposição, enxerga essa movimentação urbana como algo positivo. Ela destaca que a população negra foi se espalhando por locais como Madureira, Irajá, Jacarepaguá e Pechincha, formando pequenas Áfricas em diferentes partes da cidade. Ferrarez enaltece o chão como o território dos sambistas, onde o samba é uma ferramenta de trabalho para seu sustento, destacando que o que está acima do chão é um território em disputa.
A exposição apresenta documentos e fotos que mostram como a primeira geração de sambistas reivindicava o reconhecimento da música como profissão, como a carteira de trabalho de Pixinguinha. Esses indivíduos conseguiram transformar o samba em uma fonte de renda, negociando seu espaço e conquistando direitos trabalhistas em uma época em que a identidade e a cidadania negra ainda estavam em debate, menos de 50 anos após a abolição da escravidão.
Muitos sambistas encontraram emprego no rádio e em órgãos públicos, enquanto outros se sustentavam com shows em boates e navios. Natal, outro curador da mostra, destaca que a carteira de trabalho se tornou um espaço político a ser conquistado por uma geração que lutava por sua identidade. Heitor dos Prazeres, além de sambista, era também desenhista e pintor, responsável por ilustrar diversas rodas de samba na época. Suas obras estão expostas ao lado das fotografias e documentos da exposição.
Os sambistas enfrentam desafios relacionados ao mundo do trabalho até hoje. Mesmo sendo responsáveis por ensinar e impulsionar músicos para o mercado cultural, as relações trabalhistas dentro das escolas de samba muitas vezes são precárias. Natal destaca que essa situação não é exclusiva das escolas de samba, mas se estende a toda população negra brasileira, que ainda trabalha em condições precárias. As escolas de samba continuam sendo um importante território de lazer em bairros onde o estado muitas vezes não chega.
A exposição reserva um espaço dedicado ao “Museu dos Pobres”, em homenagem a Dodô da Portela, que guardava um rico acervo em sua própria casa e dizia que seu museu era a parede. Fotografias dos membros da escola, tecidos e documentos se misturam nessa parte da exposição. Há também fotografias de Cartola caminhando pelas ruas largas da Mangueira, tiradas por Walter Firmo.
Natal destaca que não há nenhuma instituição pública no Brasil que se dedique a preservar o acervo do samba. Ele lamenta que os sambistas ainda tenham que buscar estratégias para preservar sua própria história e critica a elite que, apesar de frequentar os camarotes caros no carnaval, ainda desvaloriza a cultura popular em detrimento à cultura erudita.
A segunda parte da exposição mostra as mudanças enfrentadas pelo samba carioca a partir da década de 1960, quando alguns sambistas acusaram suas escolas de embranquecimento com a entrada de carnavalescos formados pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Candeia, por exemplo, rompeu com a Portela para fundar a Grêmio Recreativo Arte Negra Escola de Samba Quilombo, que é representada na mostra por sua bandeira dourada. Em carta, Candeia defendeu o protagonismo do povo no samba e recusou os títulos de “academia” e “palacete”, usados para designar algumas escolas.
Nesse período, em 1961, o Cacique de Ramos foi fundado como um berço do pagode moderno, abrigando sambistas como Arlindo Cruz, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho. A mostra também apresenta instrumentos que nasceram nessa escola, como o repique de mão e o tantã.
No final do percurso, há uma espécie de árvore genealógica do samba carioca, mostrando os laços familiares, musicais e espirituais criados a partir da música. Muitos nomes, especialmente mulheres do início do século passado, aparecem sem data de nascimento, morte ou fotografia. No entanto, suas contribuições foram passadas adiante por meio do boca a boca e de documentos guardados nas paredes de casa. Angela Ferrarez, curadora da exposição, destaca que o samba e as religiosidades afro-brasileiras formam um modelo cultural que se espalha por todo Brasil. É por esse motivo que a mostra se chama “Pequenas Áfricas” no plural, convidando o público a olhar para além do Rio de Janeiro e a pensar em uma cartografia negra do país.